O Brasil precisa de um banco de dados de escravizados
Projeto quer digitalizar, analisar e oferecer à população documentação que está retida em cartórios e arquivos da Igreja Católica

Imagine acessar um site, digitar o nome de uma tataravó ou o sobrenome de sua família e descobrir um pouco da trajetória de seus antepassados escravizados através de documentos oficiais. Para isso existir, é necessário encontrar, digitalizar e analisar todos esses arquivos, com forte financiamento estatal e trabalho conjunto de muitas universidades. O Brasil não tem nada disso, ainda. Um grupo de pesquisadores e entidades querem transformar esse direito em realidade e criar um banco nacional de dados sobre escravizados aberto ao público.
É um esforço grandioso, similar ao projeto genoma. Essa é a proposta defendida por Dagoberto José Fonseca, professor Livre Docente de Antropologia Brasileira na UNESP (Universidade Estadual Paulista) de Araraquara. “Você tem vários dados de levantamentos e pesquisas sobre o escravismo no Brasil, o que não tem é a sistematização desse material e sua digitalização”, aponta.
Fonseca coordena o projeto “Reconhecer, Reparar, Religar para Seguir – Memória e História dos Nossos, Mundo Atlântico e Território” que, além de desbravar os arquivos brasileiros dos séculos XVI ao XIX, busca uma parceria o com o Arquivo Nacional de Angola, “Os documentos que estão em Angola não estão no Brasil, e vice-versa. Esse material tem que ser trocado, aberto e transformado em material público de acesso gratuito pelas plataformas digitais”. Para realizar o o projeto, o professor mantém diálogos com os ministérios de Direitos Humanos e Cidadania, Igualdade Racial e Cultura e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) através da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra.
Jorge X, diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia e presidente da Rede de Arquivos Públicos Estaduais e do DF, que também apoia a iniciativa, acredita que existam três nós burocráticos que impedem a criação do banco de dados. “É preciso que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determine um protocolo para que os Tribunais de Justiça exijam que os cartórios cedam essa documentação. Os cartórios não colaboram. Você encontra um ou outro que permite acesso às pesquisas históricas, mas essa não é a realidade do Brasil. Outro imbróglio é com a Igreja Católica, que também funcionava como cartório e não permite que essas pesquisas sejam feitas em seus arquivos. Os arquivos públicos estaduais e municipais fecham esse tripé, o que me parece ser o caminho mais fácil. E depois disso ainda há o desafio do financiamento para digitalizar toda a sua documentação”.
Segundo Fonseca, é imprescindível traduzir para o público esses registros. “Não basta mostrar que um escravizado custou tantos mil réis. É preciso explicar o que isso significa em valores atuais e dentro do contexto histórico”. Ele cita o livro “A História Comprovada: fatos reais e as dores da escravização araraquarense”, que se debruçou sobre 208 transações de venda de escravos ocorridas na cidade do interior paulista entre os anos 1870 até 1887. “Nós conseguimos dar uma cara para aquele material ao trazer a linguagem do período para a linguagem atual. Mas ainda falta muita coisa”, analisa.
É o mesmo caminho traçado pela pesquisa “Cem Anos de Escravidão: Senhores e Escravizados nos Inventários post mortem (Campinas, 1793-1888)”, desenvolvida por cinco historiadores da Unicamp e da Universidade de São Paulo (USP). Breno Moreno, doutor em História Social e coordenador da pesquisa, Felipe Alfonso, doutorando na Universidade de Harvard, contam que o acervo está custodiado pelo Centro de Memória da Unicamp (CMU), graças a uma parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde 2018, o grupo digitalizou 1.130 processos, realizados entre 1793 e 1888 – ano em que se deu a abolição, priorizando aqueles com pelo menos um escravizado descrito como propriedade. Os inventários trazem descrições físicas, idade, origem e valor monetário dos escravizados.
Para os pesquisadores, que não conheciam o projeto da UNESP de Araraquara, falta incentivo ao diálogo entre bases e informações no Brasil e apoiariam projetos inspirados em iniciativas similares ao enslaved ou ao Slave Voyages, projetos dos EUA que reúnem dados do tráfico atlântico.
O trabalho em Campinas busca reconstruir o passado escravocrata com rigor e transparência, abrir os resultados ao público e estimular um movimento de história digital colaborativa. “Desde quando a gente começou, a gente se comprometeu a ser o mais imparcial possível. A ideia é que isso inspire outros pesquisadores a compartilhar suas bases. É assim que a gente reescreve a história, explica Moreno. Os pesquisadores planejam cruzar os inventários com outras fontes — processos criminais, registros paroquiais e certidões — para reconstruir caminhos negros.
Ao mergulhar na história dos escravizados, é inevitável que ambos projetos revelem as vidas e trajetórias das famílias de escravizadores. Em Araraquara, por exemplo, os registros ajudaram a expor o passado escravista de pessoas homenageadas em ruas e praças: “Você transforma o olhar de uma sociedade inteira. Aquele que era visto como herói pode ser, aos olhos de hoje, um criminoso. Se a escravidão é crime imprescritível e de lesa-humanidade, é preciso rever os símbolos públicos”, argumenta. Fonseca. O “Projeto Escravizadores”, do site Pública, mostrou que metade dos presidentes brasileiros desde o fim da ditadura, quase metade dos atuais governadores e um quinto dos senadores do país têm passado escravizador.
Jorge X reforça que o projeto exige tempo, investimento, formação de especialistas em restauração, análise e tradução: Por fim, Fonseca enfatiza o caráter coletivo e interdisciplinar da iniciativa: “Não dá pra fazer sozinho uma coisa desse tamanho. Nem as universidades vão aguentar sozinhas. É preciso reunir várias instituições com expertise múltipla: A universidade não pode estar fechada como se fosse do século XII. A gente precisa tornar público o que é público”.
What's Your Reaction?
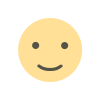
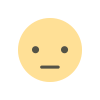

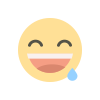

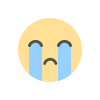


































/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/N/I/hSOKK6QE6897dYMfAuZw/globo-canal-4-20240104-1700-frame-390669.jpeg)
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/G/X/aT5YpBRBmjqT5LE1eYMg/fotojet-10-.jpg)